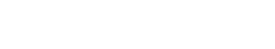Dívida pública: sempre cobrada, nunca discutida, jamais auditada (IV/V)
Este é o quarto da série de cinco artigos abordando a dívida pública no Brasil.
Novidade nenhuma: “É necessário privatizar para pagar a dívida pública”. A máxima, expressa por Paulo Guedes, Ministro da Economia do governo Bolsonaro, já havia sido sacralizada nos governos Collor (1990-1992) e Fernando Henrique Cardoso (1994-2002).
Pagar a dívida não é, no caso brasileiro, contrapartida ao financiamento ou ao empréstimo que tenha se destinado a bens, serviços ou investimentos. Significa a ação de transferência de capital, especialmente ao sistema financeiro. Trabalho de Maria Lúcia Fattorelli, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, atesta o fato (ver demais artigos desta série).
Muita coisa foi privatizada nesses governos e a dívida não encolheu: ao contrário, cresceu, cresce e sob tal política continuará crescendo. A maior parte dos créditos hoje são classificados como dívida interna, em moeda nacional, embora muitos dos títulos em mãos estrangeiras.
Os anos 1980 foram rotulados de a “década perdida”. Países periféricos vinham de um processo de crescente endividamento externo ainda nos anos 1970 e, particularidade brasileira, de um tal “milagre econômico”. A crise do petróleo em 1973 proporcionava aos países exportadores do oriente os petrodólares, dinheiro por eles canalizado a bancos do ocidente que, por sua vez, emprestavam aos subdesenvolvidos.
Em 1979, mudança de humor nos Estados Unidos, com sobretaxa nas importações do país por crise interna, provoca o corte à principal fonte de receita dos periféricos: a de produtos primários exportados. O México declarou moratória em 1982 e as torneiras dos ricos do mundo são fechadas ante risco de liquidez. Segundo Lorena Marçal, em trabalho apresentado à Unicamp, naquele ano bancos estadunidenses, além de japoneses e britânicos, expunham seu capital em dívidas da Argentina, Brasil, Chile, Venezuela, além do próprio México.
Com a dívida brasileira, à época quase que toda ela externa, contratada a taxas flutuantes, os juros aplicados na rolagem saltam de 4% ao ano para 20% ao ano.
Plano Brady
Assim, final dos anos 1980 e início dos anos 1990 formulou-se o que os economistas Paulo Lindesay e Marcelo Marcelino, integrantes da Auditoria Cidadã, denominam “grande engenharia aplicada em mais de vinte países do planeta, o chamado Plano Brady”, criação do Secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Nicholas Brady[1].
O plano oferecia descontos no total da dívida bruta. Em contrapartida, ainda segundo Lindesay e Marcelino, “consistia em turbinar dívidas nulas ou desvalorizadas em novos títulos da dívida externa”. No Brasil, dizem os autores, “apesar de serem considerados títulos podres, resultantes de transformação de dívidas nulas e até prescritas, esses títulos foram transformados em nova dívida externa, dívida interna, e até usados na compra das nossas estatais subvalorizadas”.
Enfim, desconto concedido, mas com arranjo do Secretário do Tesouro dos EUA incluindo no pacote final discutíveis créditos de bancos privados, muitos nem mais exigíveis.
Tal arranjo ocorreu em 1994, época em que no Brasil foi criado o Plano Real. A dívida, agora “limpinha”, desde então só cresce.
No próximo artigo desta série, a Auditoria da Dívida feita no Equador e na Grécia, mas proibida no Brasil.
[1] Ver “O Impacto do Sistema da Dívida”, disponível em https://auditoriacidada.org.br/nucleo/o-impacto-do-sistema-da-divida-por-marcelo-marcelino-e-paulo-lindesay; consulta em 27/4/2021
vídeo com comentários deste artigo em https://youtu.be/XihXnFRlQfU